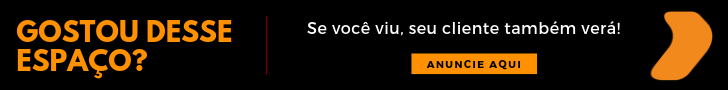Na questão dos gastos públicos existe uma discussão, talvez equivocada, entre dois grupos que se convencionou chamar de fiscalistas e desenvolvimentistas. O primeiro defende uma maior responsabilidade fiscal, uma gestão mais austera das despesas, até pela forte sinalização que isso dá ao mercado, influenciando fortemente no seu humor e na disposição dos investidores de contribuírem com mais determinação na construção do PIB potencial do país. O segundo grupo propõe o aumento dos gastos para estimular o crescimento, justificando que uma economia maior conseguiria conviver com esses gastos maiores. Fazendo uma analogia, os primeiros propõem remover as pedras do rio para poder navegar e os segundos, aumentar o nível das águas para esconder as pedras. A pergunta que fica é o que fazer em épocas de estiagem. Ainda mais, considerando que grande parte dos novos gastos acabam sendo permanentes, isto é, não poderão ser removidos em épocas de vacas magras na economia. Ou no caso do rio, aumentam o tamanho das pedras. Será que essa tese pode ser denominada desenvolvimentista? Entendo que desenvolvimento é um processo de crescimento sustentado e sustentável de longo prazo e não um voo de galinha baseado em estímulos de curto prazo, mesmo que direcionados a investimentos, se o Estado não tiver espaço fiscal para fazê-lo. Creio que deveria ser chamado desenvolvimentista quem defende o enfrentamento do excesso de gastos “para” o crescimento e não “pelo” crescimento a qualquer custo.
Essa discussão se torna ainda mais relevante no momento atual, em que o governo brasileiro implantou um dos mais robustos pacotes fiscais do planeta para socorrer a população mais vulnerável e a economia, duramente afetados pela pandemia. Faz-se necessário cuidado redobrado com quaisquer gastos não relacionados à crise sanitária. E é momento também de fazer escolhas: se quisermos priorizar os gastos sociais, devemos melhorar a qualidade dos programas atuais, e reduzir outras despesas que façam menos sentido. E não é só o poder executivo que deve assumir essa responsabilidade, e sim os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, nas três instâncias, União, Estados e municípios.
Olhando para os maiores gastos, já aprovamos a importante Reforma da Previdência, que mesmo não trazendo resultados no curto prazo, limitou grande parte do crescimento dessa conta na esfera federal. Infelizmente o assunto continua pendente em boa parte dos Estados brasileiros que não pegaram carona na reforma federal. A segunda despesa mais relevante no orçamento da União são os salários, quase R$ 330 bilhões ao ano. Somando os governos estaduais e municipais, onde é o gasto mais importante, chegamos a R$ 985 bilhões, correspondentes a 13,5% do PIB, muito acima dos 9,9% na União Europeia, 9,5% nos Estados Unidos e 7% na média dos países emergentes. É um dos motivos pelo qual o governo perdeu capacidade de investimento, rubrica que em 2020 não deve passar de 0,3% do PIB no caso da União. E sabemos que sem investimento o crescimento bate na trave. Para enfrentarmos esse problema, precisamos aprovar a Reforma Administrativa, que modernize a gestão pública, melhore os serviços e a qualidade dos gastos, aumente a produtividade do servidor evitando novos concursos, elimine distorções e privilégios, e rediscuta o tabu dos direitos adquiridos, como outros países já fizeram. Entra a discussão do engessamento de 95% do orçamento da União com gastos obrigatórios, entre eles os salários dos servidores, e fora deles os investimentos, que vêm minguando e assim comprometendo a capacidade de crescimento do país. Como bem observou o economista Carlos Kawall, o Congresso e a sociedade precisam resolver se mudam gastos mal focados e privilégios que estão na Constituição, para diminuir a distância entre o cidadão e o super cidadão, referindo-se aos servidores.
Também importantes seriam a continuidade da busca de uma solução para um grupo de estatais que geram prejuízos bilionários (R$ 190 bilhões nos últimos 10 anos) à União, e a revisão dos gastos tributários, que são benefícios fiscais a algumas empresas, a exemplo da desoneração da folha para os famosos 17 setores, em detrimento de todos os demais que têm menor capacidade de pressão. E que custam mais de R$ 300 bilhões ao ano.
Devemos resgatar o senso de urgência, e enfrentar a questão dos gastos como enfrentamos a inflação, para reverter um processo que vem fazendo o Brasil crescer menos do que os outros emergentes há vinte anos, e que tem nos deixado presos na chamada armadilha da renda média.